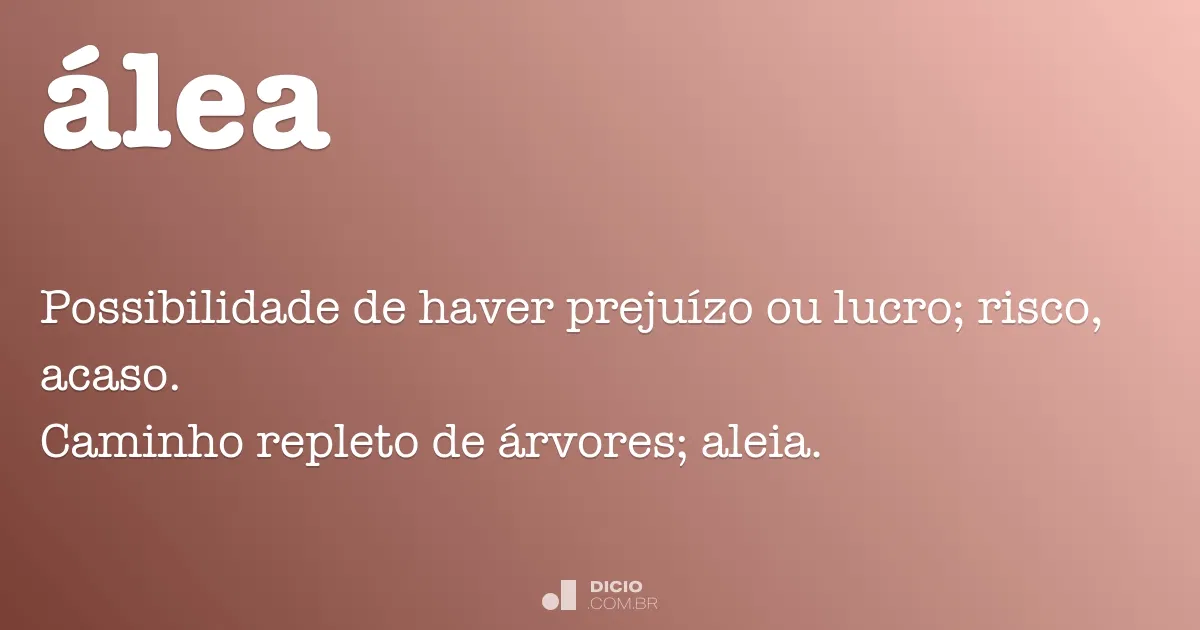REAJUSTAMENTO DE PREÇO
O mercado, seja mobiliário ou imobiliário, possui variações econômico-financeiras que, sempre que possível, devem estar previstas quando da contratação pelo Poder Público. Tais previsões devem estar formalizadas nos ajustes públicos, sob pena de rompimento do equilíbrio do contrato. Esta prática é muito utilizada no Brasil, onde os preços possuem variações múltiplas por vários motivos, criando uma inconveniência para se estabelecer ou prever preço fixo.
O reajuste de preço assegura o equilíbrio econômico-financeiro do contrato público, mesmo não previsto no instrumento convocatório e no ajuste formal contratual, pois, ocorrendo fatores que alterem a situação econômica, novos valores deverão ser estabelecidos. Esse entendimento largamente utilizado pelo Direito é justamente o de manter a harmonia entre os contratantes, mantendo-os equilibrados para a finalidade contratual proposta inicialmente.
Diferente figura é a revisão, ou o realinhamento de preços, que ocorre quando se verifica alteração dos preços não causada pela inflação, mas por condições excepcionais ou anômalas de elevação ou redução.
Já a recomposição de preços, com previsão no art. 124, II, “d”, e art. 130 da Lei 14.133/2021, que antes somente poderia ocorrer judicialmente, hoje pode alterar o contrato via aditamento, com a devida motivação/justificativas, nos casos em que as partes acordam que, por fatos supervenientes, tornou-se necessário “para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato” (124, II, d). Quando o fato for previsível, como, por exemplo, despesas com impostos e taxas e direitos trabalhistas, não se pode reajustar o contrato . O art. 130 da Lei 14.133/2021, estabelece que “caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial”.
A previsão para reajuste de preço pode ser prevista desde o edital da licitação, segundo o art. 25, § 7.º, e art. 92, V e § 3.º, da Lei 14.133/201; a Lei de Licitações estabelece que uma das cláusulas dos contratos com o Poder Público obriga a prever a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. É importante salientar que a não existência de cláusula prevendo o equilíbrio econômico-financeiro não impedirá que se faça um aditamento contratual, revisão contratual ou qualquer outro ato, tendo em vista que a previsão contratual é irrelevante. A alteração é bilateral, e o TCU já admitiu a possibilidade de se alterar cláusula contratual que estabeleça o reajuste.
A Lei 14.133/2021 estabelece que há necessidade de formalização de termo aditivo para efetivação do reajustamento, que pode ser implementado por mero apostilamento, é o que dispõe o art. 136 “registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações: inc. I I - variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio contrato”.
Assim, o reajustamento incidirá sobre prestações financeiras que tenham a forma de preços. Tem como fundamento a correção de desequilíbrios que sejam razoavelmente previsíveis e atinge somente os preços.